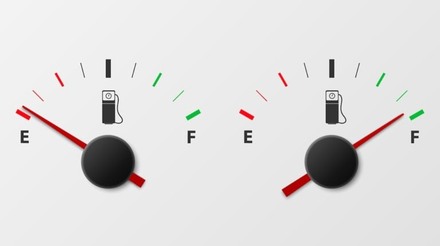A mobilização inédita do setor privado em relação à agenda climática e o maior engajamento dos Estados Unidos — o maior emissor do mundo — na pauta trouxeram grandes expectativas em relação à COP26, que acontecerá em Glasgow.
Mas, mais do que divulgar compromissos ambiciosos para redução de emissões, países e empresas precisarão mostrar como pretendem chegar lá, afirma Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e uma das principais articuladoras da agenda climática e ambiental no setor privado do país.
“Essa vai ser a COP da ambição e da ação — e isso vale tanto para os países quanto para as empresas. Nem nas mesas de negociação e nem na imprensa, ninguém vai ganhar uma linha se não mostrar o que está fazendo”, diz a executiva.
À frente do CEBDS há 16 anos, Grossi também esteve do outro lado do balcão e conhece os meandros das Conferências do Clima. Foi negociadora do Brasil entre 1997 e 2001 participou das costuras do Protocolo de Quioto.
Em entrevista ao Reset, ela defende que o Brasil antecipe sua meta de zerar o desmatamento ilegal — a principal questão que arranha a imagem do país — e mostre como vai fazer isso.
Além disso, afirma que a aprovação de um mercado de carbono regulado nacional, cujo marco regulatório tramita no Congresso, traria uma importante prova de ação para o país chegar com mais protagonismo à mesa.
Outro ponto relevante é uma postura mais construtiva em relação ao Artigo 6, que prevê a criação de um mercado regulado internacional de créditos — que pode fazer com que o Brasil fature até US$ 72 bilhões até o fim da década, segundo o CEBDS.
A seguir, os principais trechos da conversa.
Às vésperas de toda Conferência do Clima há uma mobilização em torno da agenda climática. Mas há uma comoção maior em torno dessa COP, chamada por alguns de COP das COPs. O que ela tem de diferente?
Talvez tenha uma competição aí com o Acordo de Paris, que foi assinado numa COP em 2015, quando quase 200 países se comprometeram voluntariamente a ter metas de redução de emissão de gases de efeito estufa.
Só que, ao final de tudo isso, não chegamos a um cômputo que fechasse para limitar o aumento de temperatura a 2ºC, com vistas a 1,5ºC. Como a conta não fechou, precisamos fazer uma corrida para acertar o passo. É neste ponto que estamos em 2021.
E temos uma grande mobilização de atores. O setor empresarial ganhou tração como motor de alavanca. As empresas sabem que terão que atingir a neutralidade climática porque muitos países onde atuam já colocaram isso. Mas várias delas estão se adiantando — veja a quantidade de empresas com compromisso de net zero. Começou com muito pouco, mas foi algo que acelerou.
Outro ponto relevante é que os Estados Unidos entraram e puxaram muito essa agenda, porque é o país mais emissor. Ao lado da China, eles mudam o jogo, pelo nível de emissão e pela capacidade de girar a economia toda.
Vamos ver o que a China vai colocar de emissão. Ela ainda não deixou claro o que tem, até hoje a meta dela de neutralidade de emissões está para 2060 e não para 2050 — que, por uma conta de chegada, é o que está por trás do Acordo de Paris. Ela não quis expor isso na Cúpula do Clima do [Joe] Biden, mas é possível que fale em Glasgow alguma coisa mais contundente.
Quais são os grandes pontos de atenção dessa COP?
Primeiro: quem vai mostrar mais ambição para a conta fechar. Segundo, e tão importante quanto: como. Estive com o Alok Sharma [presidente da COP] quando ele veio ao Brasil e ele já chegou falando: “não quero nenhuma declaração de intenção apenas”.
Essa vai ser a COP da ambição e da ação — e isso vale tanto para os países quanto para as empresas que queiram se posicionar nessa agenda. Nem nas negociações, nem na imprensa, ninguém vai ganhar uma linha se não mostrar o que está fazendo. Porque a conta não fechou e temos urgência. Não adianta dizer que quer ser net zero em 2040, 2050 e pronto.
E a conferência é o fechamento do livro de regras de Paris. Vamos fechar agora tudo que a gente colocou lá — e o artigo 6 é onde entra o setor privado, onde existe um mecanismo financeiro dentro do Acordo de Paris.
Na última COP, o Brasil foi um dos países que bloquearam o acordo em torno do Artigo 6, que prevê a criação de um mercado regulado internacional de créditos de carbono. Basicamente, porque não concordava com o chamado “ajuste correspondente” — isto é, que, ao vender um crédito para outro país que vai usá-lo para abater sua meta de redução de emissão, teria que aumentar sua própria meta nacional para que houvesse um jogo de soma zero. Qual a posição do CEBDS?
Quando a gente fala de ajuste correspondente, o que o setor empresarial percebe é que não considerá-lo não alinha nossa oferta com a demanda que existe lá fora. Os países estão dispostos a pagar mais por créditos que têm integridade climática, que garantem que aquele crédito realmente está colaborando para o esforço global de redução de emissões.
Sem isso, o que acontece? Nosso crédito fica pouco vantajoso.
Aquele mercado em que você não tem muito como monitorar e garantir que a redução de emissões está sendo feita vai existir, mas vai valer pouquinho.
E eu acho que a gente tem que parar esse coisa de buscar crédito baratinho, a gente pode buscar o crédito mais caro. A gente pode falar: olha, esse crédito aqui tem componentes sociais e ambientais, vem de um país com metas para a economia como um todo [em detrimento de outros países que têm apenas metas setoriais]. A gente tem que estar nesse lugar do crédito premium e não brigando para estar no lugar do crédito ‘chinfrim’.
Publicamos recentemente uma nota técnica sobre o artigo 6 que mostra bem isso: o Brasil pode ganhar até US$ 72 bilhões de receitas acumuladas até 2030 com isso. Se a gente pensar em crédito de carbono com soluções baseadas na natureza, temos 50% desse mercado. O Brasil é o grande player nisso.
Mas não dá para argumentar que o Brasil, caso se torne um vendedor relevante de créditos dentro do Artigo 6, terá que aumentar muito o esforço para cumprir as NDCs?
Na verdade, o cumprimento da nossa NDC não é difícil. Ao contrário de outros países do mundo, não depende de tecnologias novas e nem vai muito além de políticas do agro de mais baixo carbono e desmatamento ilegal. A gente pode fazer internamente a parte fácil, vender o crédito e pegar esses recursos para fazer a parte complicada da história, que é manter a floresta em pé.
E o Brasil não pode perder essa oportunidade, porque o setor privado ampara essa decisão.
Fizemos um posicionamento, chamado Empresários pelo Clima, em que conseguimos assinaturas de 115 CEOs e 14 empresas do setor privado mostrando que estamos alinhados nessa questão sobre o artigo 6, que as empresas têm que ter metas de neutralização de carbono e planos concretos para chegar lá, que é preciso preservar e produzir.
Isso rebate a tese de que tem um setor privado que é avançado e é muito muito pequeno e tem outro que tá pressionando no sentido contrário, que é muito grande. Com 115 empresas assinando, essa discussão foi por terra.
E você acha que o Brasil está mais construtivo em relação ao Artigo 6 nessa COP?
Me parece um pouco mais flexível, sim, em relação ao artigo 6. Mas eu não consegui ainda entender, não sei se é por um segredo de negociação, o que ele vai fazer de diferente.
Mas tem uma coisa que não pode acontecer mais: a gente tem que pedir recursos. O próprio Alok Sharma falou isso: “Eu quero saber de NDC ambiciosa, de planos concretos, mas, se os países desenvolvidos não colocarem dinheiro na mesa, eles não têm moral nenhuma para pedir isso.”
Eu concordo plenamente.
O que não dá — e nossas empresas não fazem isso, elas têm metas de redução independente de qualquer coisa — é falar “se não tiver isso, eu não faço aquilo”. Porque não é construtivo numa negociação.
O problema é que o Brasil não chega exatamente bem posicionado para a COP, com desmatamento em níveis recordes e com uma revisão da base de cálculo de NDC no fim do ano passado que foi considerada um retrocesso. Como podemos nos posicionar para ganhar protagonismo nas discussões climáticas? Ainda dá tempo disso acontecer?
Uma das principais questões é o compromisso com o desmatamento ilegal zero. Hoje o desmatamento é 97% ilegal. É quase redundante falar legal ou ilegal. As empresas preservam e produzem ao mesmo tempo. Existe essa realidade.
Pela nossa NDC, o desmatamento ilegal vai acabar em 2030. A gente espera que o governo antecipe essa meta para 2025.
Além de antecipar, a grande pergunta vai ser: como você vai fazer isso? O governo terá que mostrar o que vai fazer em relação ao desmatamento ilegal. Isso está contaminando a narrativa do Brasil e poluindo as boas coisas que a gente faz — e se a gente tirar esse elefante da nossa sala, saímos do sétimo lugar dos países com maior emissão e vamos lá para baixo.
Outro ponto relevante, e no qual estamos trabalhando, é que precisamos avançar no nosso mercado compulsório de carbono.
O CEBDS participou ativamente dessa discussão, propondo inclusive o substitutivo do projeto de lei que regulamentaria o mercado voluntário e propondo também a criação desse mercado compulsório nacional. Como estão as discussões? E quais as chances desse projeto de lei ser votado até a COP?
Você sabe como é o Congresso, cada hora é uma temperatura. Mas a última notícia que recebi é que tem muita pressão para acontecer antes da COP. A gente gostaria que saísse antes, seria uma grande prova de ação.
E há uma corrida mesmo dentro do Brasil. Como é uma COP de ação, os Estados do Espírito Santo e de São Paulo estão conversando com a gente, que trabalha com essa coisa do mercado de carbono, porque querem nossa contribuição. Os dois querem fazer um sistema estadual de mercado de carbono.
Claro que tem até risco, porque, se tiver um mercado federal, cai o mercado estadual. Mas esses Estados estão tomando o risco na disputa, na corrida para ver se vai ter mesmo. Porque eles querem mostrar ação.
Muito se fala sobre o potencial do Brasil como vendedor de créditos de carbono no mercado voluntário. Mas o mercado regulado — com teto de emissões para setores como de energia e industrial, como vocês estão propondo — às vezes parece um assunto negligenciado. Qual a importância desse mercado compulsório nacional?
O mercado regulado é o único que dá escala, dado o nosso senso de urgência. O mercado voluntário ainda é muito pequeno. A gente demora 100 anos para chegar lá. Além disso, o mercado compulsório é mais rigoroso. Tem que fazer uma agência, tem que ter uma terceira parte comprovando que aquele crédito realmente reduziu emissões que vão rebater na NDC. Isso dá credibilidade e ajuda o próprio mercado voluntário.
Além das rodadas diplomáticas e da agenda oficial da COP, há várias discussões paralelas e de corredores que acontecem na conferência e mobilizam o empresariado. Tem algum desses pontos que você acha mais relevante?
Lá, definitivamente, vai ser o lugar de muitos anúncios do que as empresas já vêm costurando e fazendo. Mas, fora isso, tem uma coisa bem importante, que é o TCFD [Task Force on Climate Related Disclosures, padrão para mapeamento e mensuração de riscos climáticos das empresas e nos setor financeiro]. Na Inglaterra, só se fala disso. A gente vai chegar num ambiente em que esse é um dos assuntos mais importantes.
A Inglaterra vai mostrar o que está fazendo nisso, como está enquadrando as empresas e o setor financeiro. E, nesse quesito, o Brasil fez bem a tarefa de casa, porque o Banco Central já determinou que os bancos terão que divulgar seus riscos nesse padrão.